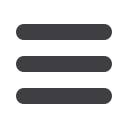

o estabelecimento de um governo
democrático, que pressupunha maior
participação popular, porque possibilitava
que muitas das decisões fossem tomadas em
âmbito local, aproximando os indivíduos da
gestão da coisa pública e distinguindo-os,
dessa maneira, como verdadeiros cidadãos
da República (Mattos, 1989, p. 169).
O crescimento da campanha republicana
em todo o país e o quadro político
instável, permeado por crises pontuais
entre o governo e grupos religiosos e
militares, abriram caminho para o golpe
de 15 de novembro de 1889, comandado
pelo marechal Deodoro da Fonseca, que
depôs o imperador d. Pedro II. Uma das
primeiras medidas do governo provisório, o
decreto n. 1, proclamou a República como
forma de governo e instituiu o princípio
federativo, determinando que as províncias
passassem a ser chamadas de estados.
Outras determinações importantes tomadas
nesse período inicial e compreendidas no
programa republicano foram a ampliação do
número de eleitores, a extinção do padroado
e a liberdade de culto, a reforma do Código
Penal e a criação de uma nova pasta, o
Ministério da Instrução Pública, Correios
e Telégrafos, pelo decreto n. 346, de 19 de
abril de 1890.
A instabilidade marcou os primeiros
governos republicanos, presididos pelo
marechal Deodoro da Fonseca, que
renunciou ao cargo em 1891, e pelo
marechal Floriano Peixoto. Nesse período, a
República passou por uma crise econômica
conhecida como “encilhamento”, decorrente
do incentivo à emissão de moeda por alguns
bancos e à criação de sociedades anônimas,
que resultou em forte especulação
financeira, aumento do custo de vida e
falência de bancos e empresas. Além disso,
foi afetada por contestações políticas
como a Revolta da Armada e a Revolução
Federalista, iniciada no Rio Grande do Sul e
que depois se irradiou para outros estados.
Com a eleição do primeiro presidente
civil, Prudente de Morais, em 1894, as
oligarquias dos estados economicamente
mais importantes assumiram diretamente o
controle do governo. Essa situação perdurou
até 1930, com exceção do governo do
marechal Hermes da Fonseca entre 1910 e
1914, e ficou conhecida como “política do
café com leite”. Essa “política” consistia
no revezamento dos estados de São Paulo
(maior produtor de café) e Minas Gerais
(maior produtor de leite) na indicação dos
candidatos à Presidência.
A consolidação desse poder oligárquico,
entretanto, começou apenas com o sucessor
de Prudente de Morais, Campos Sales,
que inaugurou a chamada “política dos
governadores”, um arranjo político no
qual o governo central sustentava os
grupos dominantes dos estados que, em
troca, apoiavam a política do presidente
da República. Esses “arranjos” eram
reproduzidos no nível estadual entre os
governadores e os proprietários rurais mais
influentes dos municípios, os “coronéis”
(pois muitos deles haviam recebido
essa patente da Guarda Nacional), e
representavam um verdadeiro obstáculo
ao exercício dos direitos políticos, já que
os chefes locais acabavam controlando os
eleitores, ao trocar votos por favores. A isso
se somavam outras fraudes, com o intuito
de manter ou colocar algum candidato em
determinado cargo político, e o próprio
desinteresse da população, como atesta o
baixo número de votantes nesse período.
Mas já na década de 1920 essa política
passou a sofrer forte oposição, verificando-
se o descontentamento de setores do
Exército, da população urbana e de grupos
oligárquicos regionais que ajudavam a
sustentá-la. Em 1922, ocorreu a revolta
dos tenentes no Rio de Janeiro, seguida
de rebeliões militares no Rio Grande
do Sul, em 1923, e São Paulo, em 1924.
Nesse último ano, muitos dos rebeldes
que participaram desses movimentos se
reuniram na Coluna Prestes, que percorreu
várias partes do país durante dois anos,
travando combates com as forças oficiais
contra o governo das oligarquias. Outro foco
de contestação surgiu em São Paulo, com a
criação do Partido Democrático, em 1926,
que congregou forças políticas do estado
descontentes com a situação do país.
Além da atuação desses grupos, esse
primeiro período da história republicana
assistiu ao crescimento do movimento
operário, que acompanhou o incremento
das atividades industriais no Brasil.
Inspirados por ideias trazidas pelos
imigrantes estrangeiros, como anarquismo,
socialismo e comunismo, esses trabalhadores
se organizaram em entidades que lutaram
ativamente por meio de greves e outras
















