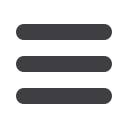
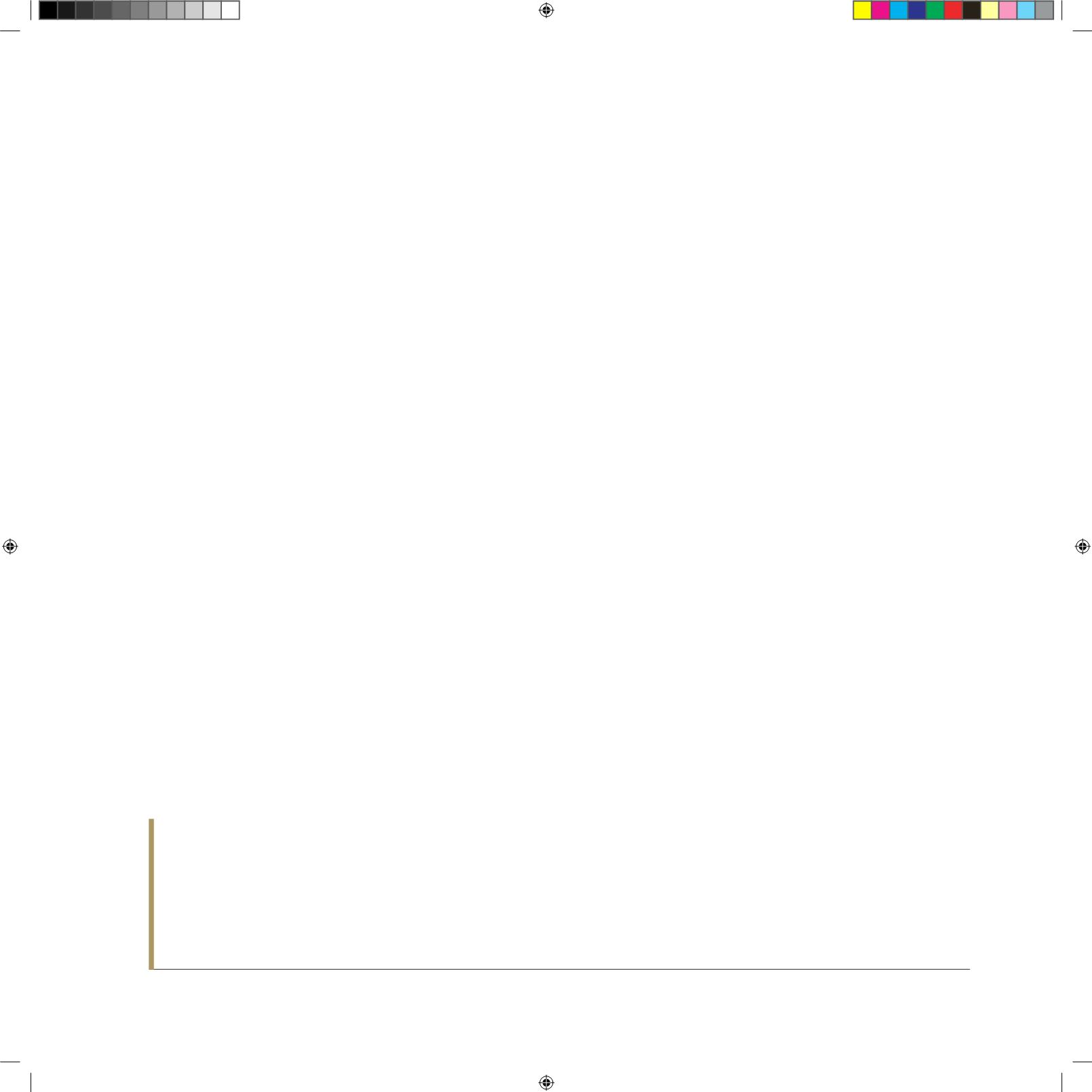
facções políticas condensadas ao longo dos
últimos anos do Primeiro Reinado – uma de
suas maiores prioridades.
É possível situar nesse contexto a lei de 18 de
agosto de 1831, que criou a Guarda Nacional,
milícia popular organizada localmente. O
preenchimento de seu oficialato inferior se
daria por critérios eletivos, dando margem,
teoricamente, para sua ocupação pelos
estratos sociais inferiores, inclusive os libertos.
Inspirada em instituição similar surgida na
França em 1789, a Guarda Nacional brasileira
partilhava com aquela o ideal de transferir
para o poder civil – representado pelos
cidadãos ativos, uma vez que os critérios para
alistamento eram os mesmos estipulados para
a concessão do direito de participação política
– a responsabilidade sobre a manutenção da
ordem e a defesa do país.
Do ponto de vista social, a importância
da Guarda Nacional, tal como ela se
apresentava no momento de sua fundação,
foi a natureza relativamente popular de sua
composição. Além da adoção de critérios
eletivos para o preenchimento do oficialato
inferior, nela o alistamento era franqueado
à maioria da população economicamente
ativa, não havendo outra restrição que
não fosse a comprovação da renda mínima,
possibilitando a participação de pardos e
libertos, ainda que sua efetiva presença nos
quadros da Guarda Nacional
seja controversa.
Uma vez que a própria Constituição de
1824 já previa o fortalecimento do poder
civil, a instalação da Guarda Nacional,
aventada ainda no Primeiro Reinado,
tornou-se urgente após a abdicação, quando
se iniciou um período de convulsões sociais
concomitante a um aprofundamento da
independência brasileira. Esta adquiria um
feitio nacional mais intenso, expurgando-
se o Estado da influência portuguesa
ainda remanescente, fato simbolizado
pela saída de cena do próprio d. Pedro.
Nesse contexto, a milícia brasileira já
nasceria sob o peso da responsabilidade
de garantir a continuidade do Império,
zelar pela unidade territorial e promover a
tranquilidade pública, precisando reprimir
a insubordinação das tropas, em parte
ainda leais ao antigo imperador, conter as
manobras restauradoras da facção política
absolutista e controlar os distúrbios sociais
provocados pelos conflitos entre portugueses
e brasileiros e pelas sublevações provinciais.
Na prática, a Guarda Nacional foi o
principal sustentáculo armado do regime
imperial ameaçado na conjuntura pós-
abdicação, e seria utilizada pela Secretaria
de Justiça no combate às diversas revoltas
escravas e sedições locais que punham em
risco a estabilidade política e territorial
brasileira, sendo as mais importantes a
Revolta dos Malês e a Sabinada, na Bahia,
a Cabanagem, no Pará, e a Farroupilha, no
Rio Grande do Sul. Ao longo da década de
1840, todavia, paralelamente à consolidação
do Império e à reconstrução do exército,
a Guarda Nacional perde importância,
sendo ao mesmo tempo destituída de seu
aspecto eletivo num contexto em que a
maior estabilidade política e social tornou
desnecessário, e mesmo inconveniente,
armar a população.
Isto demonstra um arrefecimento do
liberalismo nas instituições brasileiras, na
medida em que a necessidade de se produzir
uma ruptura com o passado colonial
se torna menos urgente. Por aqui, esse
ideário, expresso na Constituição de 1824
Liberdade religiosa
A vinda da família real para o Brasil e a entrada de estrangeiros levaram o Estado português a assegurar a liberdade de culto em várias situações, como na assinatura
do Tratado de Comércio e Navegação em 1810. Após a Independência, a liberdade religiosa seria regulamentada pela Constituição de 1824, que instituiu o catolicismo
como religião oficial do Estado brasileiro, permitindo o culto público da fé à Igreja Católica e mantendo a permissão às demais religiões apenas em caráter doméstico,
sem qualquer manifestação externa. Além disso, a Constituição iria impor diversos outros limites aos não católicos, como a impossibilidade de acesso ao registro civil
– prerrogativa da Igreja –, de ser eleito deputado e de participar do Conselho de Estado. As atividades relativas aos negócios eclesiásticos e os temas ligados aos cultos
não católicos estiveram sob a responsabilidade da pasta da Justiça até 1862, quando passaram para a alçada da Secretaria de Estado dos Negócios do Império. Com o
advento da República, o governo provisório instituiu em 1890 a separação entre Estado e Igreja, estabelecendo, de fato, a liberdade religiosa no Brasil.
















