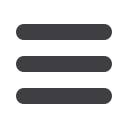

sociedade regida por um ordenamento
jurídico liberal, em que a liberdade surge
como direito fundamental e inato, deveu-se
à ênfase conferida ao direito de propriedade,
igualmente inquestionável. Assim, embora
a Constituição não endossasse a legalidade
da escravidão, indiretamente dava margem
à sua prática ao proteger o direito senhorial
de propriedade. Ao mesmo tempo, a Carta
brasileira inspirou inúmeras demandas
judiciais pela aquisição dos direitos civis
nela assegurados, movidas, principalmente,
por escravos e libertos, sugerindo que a
repartição desigual dos direitos no Império
talvez não fosse tão rígida.
Além disso, a persistência dessa instituição,
tão associada ao colonialismo e ao
absolutismo, ao lado da disseminação de
um senso comum liberal, estaria vinculada
a características culturais e econômicas
remanescentes do passado próximo.
Fundamental para a produção agrário-
exportadora, principal fonte de divisas do
país, a escravidão era praticada de norte
a sul, mesmo entre os mais pobres e até
em meio aos libertos. Isto denota a sua
grande aceitação na sociedade brasileira nos
primeiros anos do Império, significando,
ao mesmo tempo, um grave limite à
propagação dos princípios da liberdade
individual, direito civil mais básico, e, por
conseguinte, da cidadania.
Outro aspecto relevante da Constituição
de 1824, do ponto de vista da difusão dos
direitos civis no Brasil, foi a determinação
de que se produzisse, com urgência, uma
codificação civil e criminal, embora apenas
a segunda tenha sido elaborada num prazo
relativamente curto. A inexistência de um
código civil representou um sério problema
para o panorama legal brasileiro, uma
vez que, sem um arcabouço moderno de
leis no qual as contendas civis pudessem
se basear, foram mantidas as disposições
das Ordenações Filipinas nessa esfera até
o século XX, em virtude da dificuldade
de se produzir um código adaptado às
especificidades brasileiras, sobretudo no
que se refere à escravidão. A premência de
sua elaboração era sentida, sobretudo, pelos
juristas da época, que partilhavam a crença
de que o código civil constituía um requisito
indispensável para o aprofundamento da
independência brasileira e a modernização
do Estado que se criava.
O Código Criminal de 1830
A historiografia recente tende a confirmar
o papel da Secretaria de Justiça como
mantenedora da ordem ao longo de todo
o período imperial, condição para a
construção do Estado nacional idealizado
pelas elites no poder enquanto organismo
voltado para a defesa dos interesses da
agricultura escravista e a manutenção
da hierarquia social, num período
convulsionado por rebeliões escravas e
revoltas provinciais. Com esse objetivo, o
ministério acumularia, então, além de suas
funções destinadas à repressão ao crime,
outras relacionadas, indiretamente, com
esse quadro mais amplo de preservação
da ordem, como a normalização da
propriedade da terra e da força de trabalho,
a distribuição de honrarias, o processo
eleitoral e a vigilância sobre a imprensa
(Mattos, 1987). Nesse contexto, destacou-
se a publicação pela secretaria do primeiro
código criminal do Império brasileiro,
instituído pela lei de 16 de dezembro de
1830, mas em vigor a partir de 1831, que
deu início à substituição do arcabouço legal
português ainda vigente no Brasil apesar
da Independência. A rapidez da elaboração
do código deveu-se à anulação de várias
disposições das Ordenações pela Carta de
1824, privando o sistema penal brasileiro
de boa parte dos parâmetros legais que o
orientavam e tornando urgente a produção
de uma nova legislação.
Quanto à preservação do direito de
liberdade individual, o novo código
representou um grande avanço, se
comparado às limitações ao seu exercício
no panorama legal anterior, uma vez que a
legislação portuguesa concedia ao Estado
grande margem de arbítrio na prática
do poder penal. Ainda que um decreto
emitido pelo conde dos Arcos em 1821
tenha pretendido minorar este problema,
estipulando regras para as prisões e
tratamento dos detentos, sua resolução viria
apenas com o estabelecimento do direito à
requisição de
habeas corpus
prevista pelo
Código Criminal de 1830. Entretanto,
o código trouxe um grande obstáculo à
difusão dos direitos no Brasil ao negar o
estatuto de sujeito de direitos aos escravos,
ao mesmo tempo em que os reconhecia
como autores de delitos. Assim, o direito
penal apenas incidiria sobre o escravo como
acusado, estando vedada a sua qualificação
como vítima de qualquer crime.
















