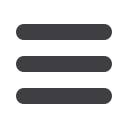
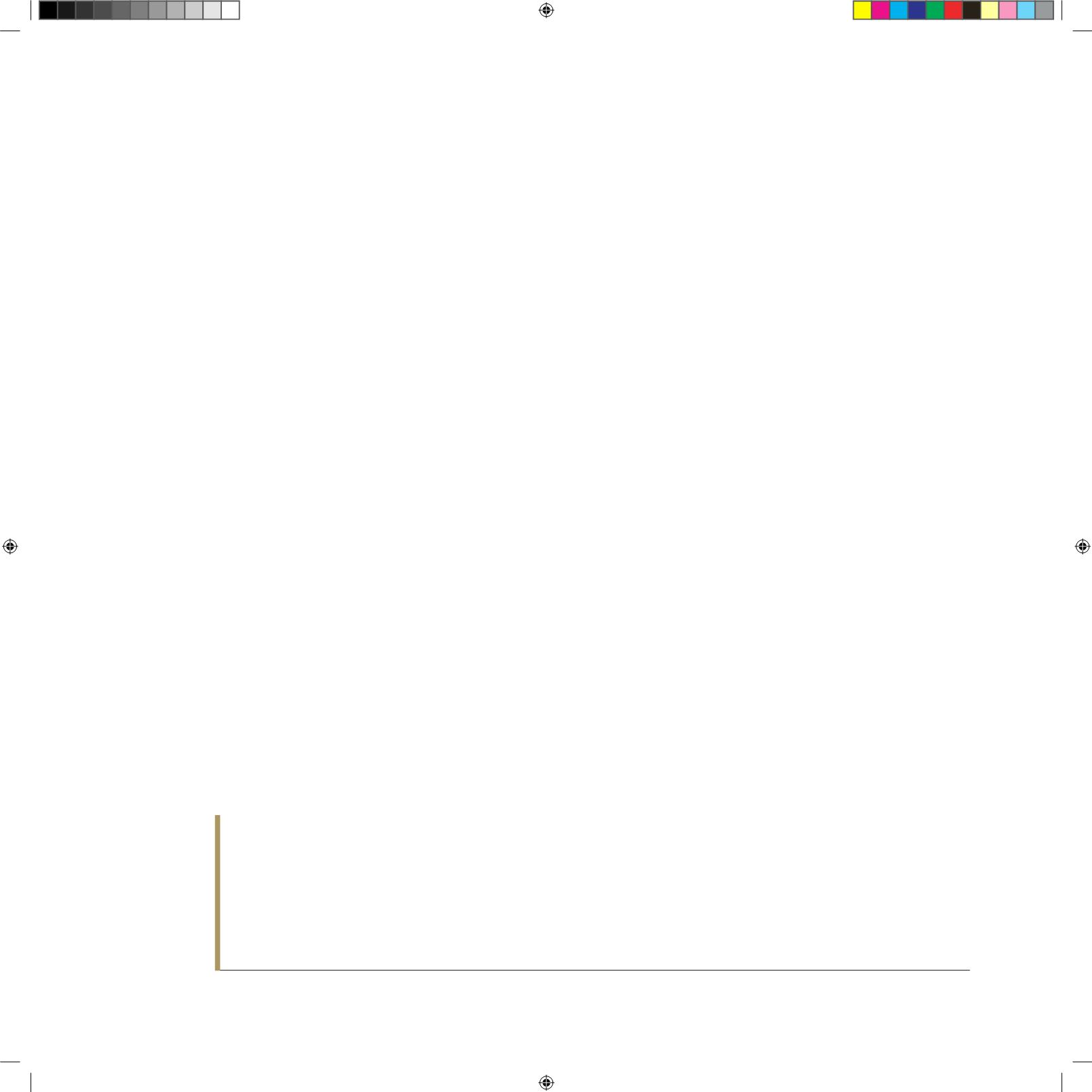
outros que, igualmente, não possibilitaram
o controle da inflação.
Por outro lado, no governo Sarney foi dado
um passo importante no sentido de se
consolidar a democratização, ao aprovar-se
uma nova Constituição, considerada a mais
democrática e liberal que o país já teve, e
por isso chamada de Constituição Cidadã.
Uma nova Constituição
para o Brasil
As eleições para a Assembleia Nacional
Constituinte foram realizadas em 15
de novembro de 1986, e os trabalhos
começaram no início do ano seguinte. O
perfil da Constituinte, embora conservador,
acabou por representar diferentes grupos
e interesses, contemplando a diversidade
inerente à própria sociedade brasileira
(Andrade, 2008, p. 478). Assim, após mais
de um ano de trabalhos e consultas a
especialistas e setores da sociedade, o
texto final foi promulgado em 5 de outubro
de 1988.
A Constituição teve como preocupação
central a garantia dos direitos do cidadão
(Carvalho, 2001, p. 200). No início
do texto, o Brasil é definido como um
Estado democrático de direito, ou seja,
um Estado de cidadãos que tem como
fundamentos a soberania, a cidadania, a
dignidade da pessoa humana, os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o
pluralismo político.
O direito ao voto foi ampliado. Pela
primeira vez na história republicana foi
reconhecido esse direito aos analfabetos,
mas de forma facultativa. O voto não
obrigatório foi estendido também aos jovens
entre dezesseis e dezoito anos. A restrição
se manteve apenas para os alistados,
embora somente durante o serviço militar
obrigatório.
As eleições para todos os cargos do Poder
Executivo foram divididas em dois turnos
caso nenhum candidato alcançasse a
maioria absoluta na primeira votação.
Em relação ao Poder Legislativo, a
representatividade regional na Câmara
dos Deputados e no Senado acabou por
favorecer os estados menos populosos, que
possuem, cada um, três vagas de senador.
Mas o número de deputados, apesar de
proporcional à população, não reproduz as
diferenças regionais de forma equivalente.
Houve igualmente a ampliação dos direitos
sociais e o estabelecimento dos direitos civis
suprimidos durante o regime militar, como
a liberdade de organização e de expressão.
Aliás, a Constituição de 1988 foi além,
extinguindo a tão antiga e consolidada
prática da censura.
O próprio conjunto de direitos foi estendido,
com a introdução da ideia de direitos
culturais e a defesa dos direitos relativos
a grupos específicos, como as minorias,
crianças e adolescentes, índios, mulheres
e consumidores. A inclusão desses direitos
assinala um aprofundamento da tutela do
Estado, que deixa de considerar apenas seus
destinatários genéricos, os cidadãos, e passa
a cuidar do ser humano em determinada
situação (Lafer, 2004, p. XI).
Também foram mudanças importantes
a introdução do direito do
habeas data
,
destinado a assegurar a qualquer pessoa o
conhecimento das informações existentes
sobre ela nos registros ou bancos de dados
de entidades governamentais ou de caráter
público, e o estabelecimento do mandado
Anistia política
Na época moderna a justiça era a função suprema do rei, e incluía o indulto da graça, de perdão aos criminosos políticos. Desde então a anistia
política passou por mudanças, mantendo-se como prerrogativa do Estado e consagrada em textos constitucionais e na Declaração Universal
dos Direitos Humanos. No Brasil, a anistia também foi um instrumento utilizado pelo Estado em diferentes períodos, com alcances e significados
políticos distintos. A ditadura militar iniciada em 1964 utilizou-se de um instrumental jurídico que suprimiu direitos políticos, colocando a anis-
tia como uma das principais bandeiras da luta pela redemocratização do país. Promulgada em 28 de agosto de 1979, a lei n. 6.683, a chamada
Lei da Anistia, garantiu o retorno dos exilados ao Brasil e o restabelecimento de seus direitos políticos. Esta lei foi complementada por vários
diplomas legais que ampliaram os direitos dos anistiados, introduzindo a possibilidade de reparação aos perseguidos políticos no Brasil.
















