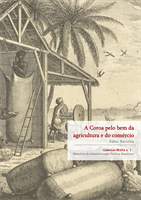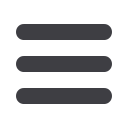

25
do que objetiva. Entretanto, existiam para nortear as escolhas e nomeações desses
altos cargos ultramarinos. Dessa maneira, sangue nobre, idade madura e riqueza eram
atributos objetivos desejáveis para as escolhas (Russel-Wood, 1999, p. 17).
Os cargos públicos de menos vulto possuíam uma maior flexibilização de
competências exigidas e, consequentemente, de nomeações. Estas poderiam ser
concedidas mediante um reconhecimento a um serviço prestado, pela estima do
soberano, pelas aptidões administrativas, pelo “tráfico de influências”, pela venda do
cargo. A última modalidade, inclusive, representou fonte de recursos para a Coroa ao
mesmo tempo em que abriu as portas do serviço público para os naturais das colônias
e contribuiu para a acumulação de cargos nas mãos de um único indivíduo (Russel-
Wood, 1999, p. 185).
A delegação de atividades a grupos privados também era prática recorrente.
No Brasil, Russel-Wood chama atenção para o fato de que a manutenção da ordem
local era exercida muitas vezes por grandes proprietários de terras que comandavam
companhias armadas, em troca de títulos honoríficos (Russel-Wood, 1999, p. 192).
Deve ser destacado que este fato também contribuiu para a consolidação do poder nas
mãos de oligarquias regionais.
Longe do caos e da irracionalidade de que fora acusada por anos, a
administração portuguesa no reino e nos domínios além-mar possuía uma
racionalidade própria, em que as fronteiras existentes entre o público e o privado
eram tênues e escorregadias. As interseções entre estas duas esferas eram toleradas
desde que não lesassem a Coroa. A fragmentação de autoridade por todo o império e
em muitas estratificações, aliada à “tirânica distância”, evocada por Russel-Wood,
fazia com que a relação metrópole-colônia ficasse longe da passividade, onde as
pressões dos colonos de todo o Ultramar deviam ser consideradas, assim como as
relações entre os representantes da Coroa, em seus diversos níveis, e os habitantes
locais.