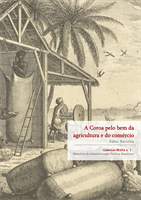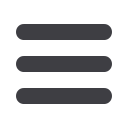

41
privado, atraído e estimulado pela Coroa, e único capaz, naquele momento, de
realizar as inversões necessárias para a construção de engenhos e o cultivo em larga
escala. No entanto, conforme se expandia a comercialização e a produção do açúcar,
expandiam-se também os lucros, atraindo a atenção da metrópole para uma
necessidade de maior regulação desse mercado e uma forma de não se deixar desviar
sua “fatia do bolo”.
Assim, se no começo a política da Coroa era claramente fomentadora, com o
passar do tempo as decisões vão sendo adaptadas às circunstâncias. Em 29 de julho de
1551, foi expedido um alvará isentando também do dízimo os engenhos novos
(Schwartz, 1999, p. 343). Mais de um século depois a carta de lei de 17 de setembro de
1655 já estabelece requisitos para regular essa isenção, uma vez que, expirado o prazo
de dez anos, se observa os donos de engenho reerguendo os mesmos engenhos para se
beneficiar novamente, gerando prejuízos às finanças metropolitanas. Outros exemplos
dessa evolução do controle por parte da Coroa são a carta régia de 20 de maio de 1660,
que proibia a construção de novos engenhos no estado do Brasil, visando evitar a
superprodução, e a carta de lei de dezembro de 1687, que estabelece uma série de
providências para manter a qualidade do produto fabricado no Brasil. De fato,
poderíamos citar uma série de outros exemplos de decisões régias que simbolizam
alterações em termos de afrouxamento ou acirramento do controle da Coroa tanto
sobre a organização da produção agrícola quanto sobre sua comercialização, decisões
estas que muitas vezes constituem ferramentas que, na teoria, funcionam, ora como
subsídio e diminuição a barreiras de exportação, ora como aumento do controle sobre
as rendas e controle da produção, variando conforme as conjunturas da metrópole ou
do mercado internacional, ou ainda conforme a visão da Coroa em relação à melhor
forma de conduzir seus negócios. No entanto, não é propósito deste trabalho fazer tal
levantamento; é-nos imposto, apenas, a necessidade de diagnosticar a maleabilidade
que esse modelo de administração “à distância” fornecia à condução dos negócios
coloniais, mesmo que, como veremos, nem sempre sua representação formal se
traduzisse em realização efetiva.