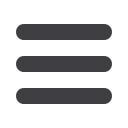

Fábio Campos Barcelos e Louise Gabler
18
Era de se esperar que essa preocupação em garantir o bem-estar social e promover o
desenvolvimento econômico exigisse uma grande soma de investimentos por parte do Estado.
Assim, a diminuição dos níveis de atividade econômica, principalmente após a segunda crise do
petróleo, em 1979, colocou em xeque a capacidade do Estado de arrecadar os recursos
necessários para esses investimentos por meio de tributação. Deu-se início, então, a um
período de crise fiscal, em que o modelo de intervenção estatal passou a ser contestado. O
crescimento da participação do Estado na economia passou a ser visto como um elemento
desestabilizador, uma vez que as principais avaliações apontavam para os excessivos gastos
públicos como principal causa da aceleração inflacionária. Além disso, o avanço nas tecnologias
eletrônicas e o processo de globalização impuseram uma nova dinâmica ao desenvolvimento
econômico, dinâmica esta que o Estado era incapaz de acompanhar sem agravar ainda mais
seu desequilíbrio fiscal.
Como resultado, ao serem expostas as deficiências do modelo de desenvolvimento via
intervenção do Estado, renovou-se a crença nas leis de mercado e na iniciativa privada como
sendo as únicas forças capazes de efetivamente garantir uma estabilidade econômica
sustentável em face da nova conjuntura que se apresentava. Assim, no começo da década de
1990, o que podemos observar é que o debate sobre o papel do Estado na sociedade voltou a
gravitar em torno da corrente que defendia uma diminuição da atuação estatal sobre a
atividade econômica.
Assim, a conjuntura econômica herdada da década anterior influenciou decisivamente
a maneira como o governo Collor tratou a questão do papel do Estado na sociedade. No
entanto, em termos políticos, a década de 1980 também foi marcada por acontecimentos
extremamente relevantes, cujas influências também puderam ser vistas na década seguinte.
Um símbolo dessa nova corrente de pensamento que se estabelecia no mundo foi o
chamado Consenso de Washington, expressão cunhada pelo economista John Williamson para
definir um conjunto de políticas que, na visão das principais instituições financeiras
internacionais sediadas na capital americana, eram essenciais para estimular o
desenvolvimento em países considerados economicamente atrasados, principalmente na
América Latina. Suas orientações eram, entre outras: a) disciplina fiscal, ou seja, diminuição
dos déficits governamentais, que eram vistos como a principal causa das graves crises de
balanço de pagamentos e das altas taxas de inflação de alguns países sul-americanos na época,
inclusive o Brasil; b) reavaliação dos gastos públicos, propondo que os governos deixassem de
alocar os recursos do Estado em medidas que atuassem diretamente sobre o sistema produtivo
ou em gastos administrativos e militares, e passassem a adotar como prioridade os
investimentos em infraestrutura, saúde, educação; c) privatização de empresas dirigidas pelo
Estado, que seriam ineficientes em sua capacidade de promover a melhor distribuição de
recursos; e d) desregulação da economia, recomendando que deveria ser eliminado qualquer
tipo de regulamentação que atuasse como barreira de entrada nos mercados ou que servisse
de empecilho à competição no setor privado, partindo do pressuposto de que a legislação
deveria ser formulada com o intuito
de assegurar garantias e estimular a prudência financeira,
sem controle de preços em indústrias não competitivas. Havia, ainda, outras recomendações
complementares, como reforma tributária, liberalização financeira e comercial, todas atuando
no mesmo sentido, ou seja, para a menor participação do Estado na economia e maiores
incentivos às forças de mercado (Williamson, 2004, p. 3).


















